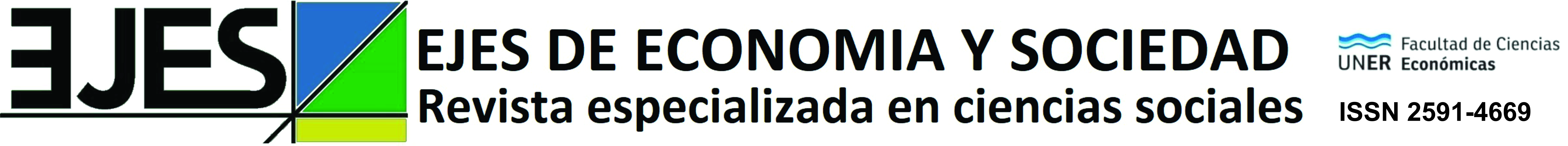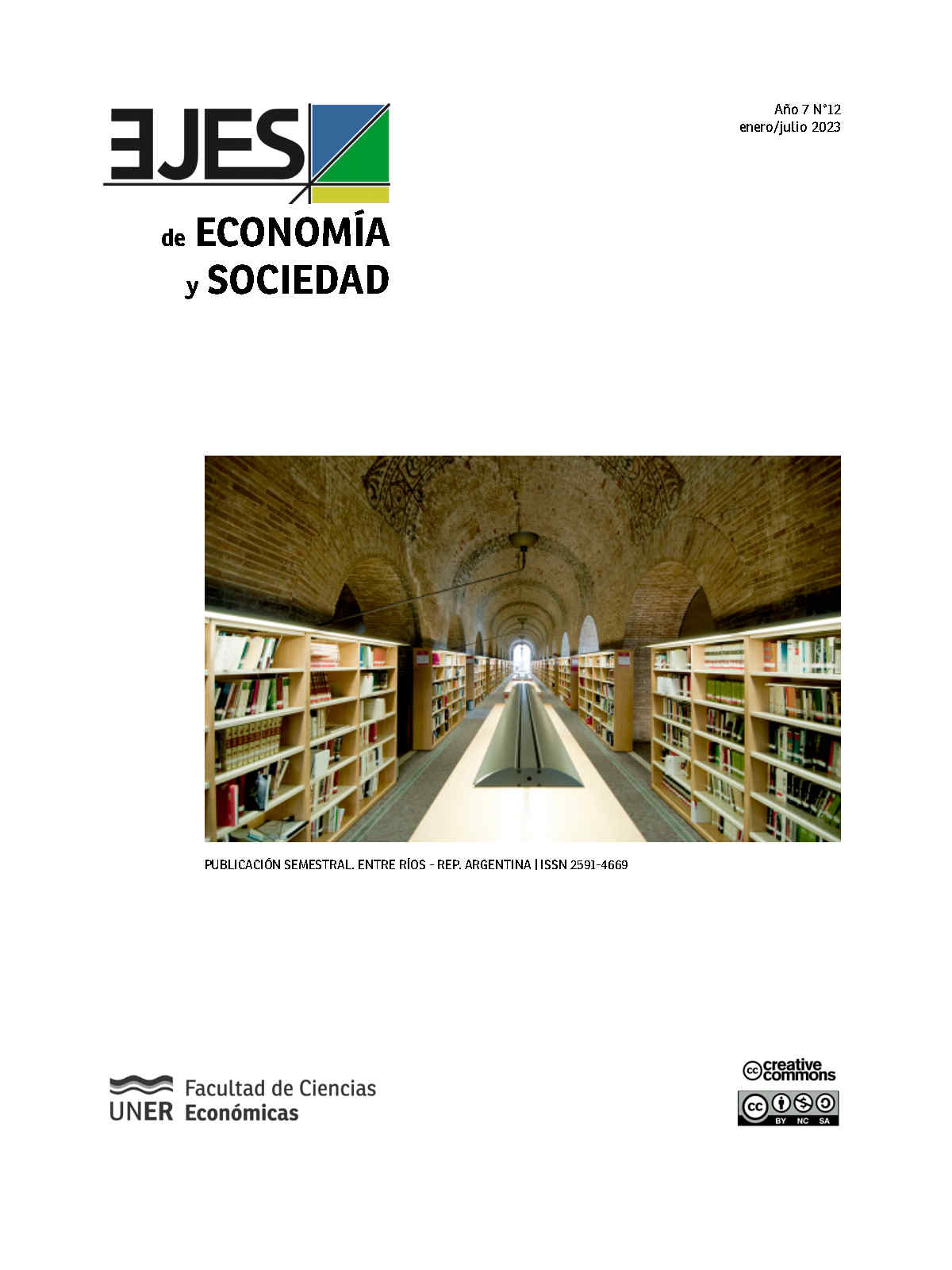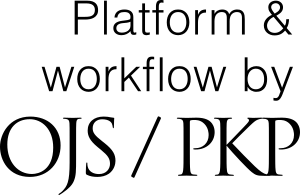O sindicalismo da agricultura familiar no sul do Brasil no cenário recente
DOI:
https://doi.org/10.33255/25914669/702Palabras clave:
sindicalismo da agricultura familiar, atuação sindical, estrutura sindical, relação com o EstadoResumen
O objetivo é analisar o sindicalismo da agricultura familiar por meio do estudo da atuação e estrutura da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF) durante os governos do Partido dos Trabalhadores e as alterações durante os recentes governos de direita (2016-2022), num cenário de escassez de políticas públicas e afastamento do governo, observando como a FETRAF do estado do Rio Grande do Sul tem se adaptado a mudanças, como atende às demandas da sua base e analisar a sua relação com o Estado. A base teórico-metodológica é a teoria dos movimentos sociais e sua relação com o Estado, analisando documentos e entrevistas com lideranças sindicais. Resultados apontam que o sindicalismo, embora com dificuldades, tem conseguido reaglutinar bases e realizar algumas ações.
Descargas
Citas
Abers, R., Serafim, L., & Tatagiba, L. (2014). Repertórios de Interação Estado-Sociedade em um Estado Heterogêneo: A Experiência na Era Lula. DADOS-Revista de Ciências Sociais. vol. 57, n. 2. Rio de Janeiro, RJ, p. 325-357.
Bagnara, A. A. Enquadramentos Interpretativos da FETRAF e as mudanças da atuação sindical na relação com Estado, Políticas Públicas e Base Social. (2021). Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.
Conti, I. L. Organizações Sociais e Políticas Públicas: inserção da FETRAF-Sul nas Políticas Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional. (2016). Tese (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.
Correa, E. G. (2021), O sindicalismo de trabalhadores rurais como objeto de disputa e como agente de construção de centrais sindicais no Brasil (2003-2017). Caderno CRH, 34, e021004.
Delgado, G., & Schwaezer, H. (2000), Evolução histórico-legal e forma de financiamento da previdência rural no Brasil. In G. Delgado e J. C. Cardoso Jr. (org.). Universalização de direitos sociais no Brasil: a previdência rural nos anos 90. Brasília: IPEA.
Favareto, A. (2016), Agricultores, trabalhadores: os trinta anos do novo sindicalismo rural no Brasil. Revista brasileira de ciências sociais, v. 21 n. 62 out.
Fernandes, B. M. (2014). Questão agrária e capitalismo agrário: o debate paradigmático de modelos de desenvolvimento para o campo. Reforma Agrária, ano 35, v. 01, n. 02, p. 41-53.
Lamarão, S., & Medeiros, L. S. (2001), Verbete Estatuto do Trabalhador Rural. In A. Abreu et al (coords.). Dicionários Histórico-Biográfico Brasileiro – Pós 1930. Rio de Janeiro: CPDOC, 2001.
Lermen, N.G. & Picolotto, E. L. (2020), Trabalho rural, representação classista e lutas por direitos na produção de maçãs em Vacaria-RS. Revista da ABET, v. 19: 117-142.
Medeiros, L. S. (1989), História dos movimentos sociais no campo. Rio de Janeiro: FASE.
Medeiros, L. S. (2014), O sindicalismo rural nas últimas duas décadas: mudanças e permanências. In E. V. Oliveira et al. (org.) O sindicalismo na era Lula: paradoxos, perspectivas e olhares. Belo Horizonte: Fino Traço.
Medeiros, L. S. (2021), Atores, conflitos e políticas públicas para o campo no Brasil contemporâneo. Caderno CRH, v. 34: 1-16.
Niederle, P. A., Grisa, C., Picolotto, E. L., & Soldera, D. (2019). Narrative Disputes over Family-Farming Public Policies in Brazil: Conservative Attacks and Restricted Countermovements. Latin American Research Review, v. 54, p. 707-720.
Novaes, R. (1997), C. R. De corpo e alma: catolicismo, classes sociais e conflitos no campo. Rio de Janeiro: Ed. Graphia.
Palmeira, M. (1985), A diversidade da luta no campo: luta camponesa e diferenciação do campesinato. In: V. Paiva (org.) Igreja e questão agrária. São Paulo: Loyola.
Picolotto, E. L. (2018a), Pluralismo, neocorporativismo e o sindicalismo dos agricultores familiares no Brasil. Sociedade e Estado, v. 33: 85-115.
Picolotto, E. L. (2018b), Pluralidade sindical no campo? Agricultores familiares e assalariados rurais em um cenário de disputas. Lua Nova, São Paulo, 104: 201-238.
Picolotto, E. L. (2022). A formação da agricultura familiar no país da grande lavoura: as mãos que alimentam a nação. 1. ed. Curitiba: Appris, 2022. v. 1. 375p.
Picolotto, E. L., Lazzaretti, M., & Trindade, E. P. (2022). As reformas neoliberais no Brasil e os seus impactos na ação sindical e na precarização do trabalho rural. Laborare, v. 5, p. 9-33.
Rubio, B., & Peña, J. (2021). Del populismo al progresismo: reflexiones sobre su capacidad transformadora. Caderno CRH, v. 34. https://doi.org/10.9771/ccrh.v34i0.42356.
Riella, A.& Mascheroni, P. (2015), Introducción. In Assalariados rurales en América Latina. Buenos Aires: Conselho Latino-americano de Ciências Sociais.
Sauer, S. (2009), Agricultura familiar versus agronegócio: a dinâmica sociopolítica do campo brasileiro. 1. ed. Brasília: EMBRAPA, v. 1. 73p.
Silva, M. A. M. & Verçoza, L. V. (Org.). (2020), Vidas tejidas al reverso de la historia. Estudios sobre el trabajo en los cañaverales y los campos de flores en Brasil. 1. ed. Buenos Aires: CLACSO, v. 1. 263p.
Tilly, C. (2006), Regimes and Repertoires. Chicago: The University of Chicago Press.
Wanderley, M. N. B. (1996). Raízes históricas do campesinato brasileiro. XX Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2023 Everton Picolotto, Mateus Lazzaretti

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
- Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación del trabajo al igual que licenciado bajo una Creative Commons Attribution License que permite a otros compartir el trabajo con un reconocimiento de la autoría del trabajo y la publicación inicial en esta revista.
- Los autores pueden establecer por separado acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión de la obra publicada en la revista (por ejemplo, situarlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro), con un reconocimiento de su publicación inicial en esta revista.
- Se permite y se anima a los autores a difundir sus trabajos electrónicamente (por ejemplo, en repositorios institucionales o en su propio sitio web) antes y durante el proceso de envío, ya que puede dar lugar a intercambios productivos, así como a una citación más temprana y mayor de los trabajos publicados (Véase The Effect of Open Access) (en inglés).